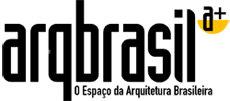A política habitacional e a agenda urbana no Brasil caminhos para reflexão / Com João Sette Whitaker Ferreira, João Carlos Carvalhaes dos Santos Monteiro e Leda Velloso Buonfiglio

João Sette Whitaker Ferreira
Em novembro de 2015, num momento de reorganização das alianças políticas, o então prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, anunciava João Sette Whitaker Ferreira para o comando da Secretaria Municipal de Habitação. Na imprensa, a troca de um “indicado de Maluf por professor da USP” numa pasta estratégica como a da Habitação foi descrita como a substituição de um secretário “mais afinado com o setor da construção” por um arquiteto “mais afinado com os movimentos”.
De fato, a trajetória acadêmica e a atividade de militância do novo secretário estavam intimamente relacionadas aos movimentos de luta pela reforma urbana e pela moradia digna, afinidade que se traduziu numa mudança significativa das ações e na organização da secretaria no último ano da gestão Haddad.
Nesta entrevista realizada em maio, Whitaker nos relata sua experiência como secretário e expõe os desafios da gestão da cidade mais populosa do hemisfério sul. Conversamos sobre os avanços e retrocessos da política urbana brasileira nas últimas décadas e instigamos o entrevistado a discorrer sobre temas caros à agenda urbana nacional, tais como a atuação do Ministério das Cidades e os quase vinte anos de criação do Estatuto da Cidade.
O programa federal Minha Casa Minha Vida ocupou a atenção de boa parte da entrevista, já que Whitaker é autor de livro e artigos sobre este que foi o mais importante investimento no setor de habitação no Brasil. Ao final da entrevista resgatamos o debate sobre a moradia na área central de São Paulo e a opinião do autor sobre o potencial das parcerias público-privadas na provisão habitacional de interesse social.
Sua primeira experiência na gestão pública foi como secretário municipal de habitação de São Paulo. Quanto isso contribuiu para as suas reflexões acadêmicas?
Essa foi minha primeira experiência em um cargo de responsabilidade, mas eu havia tido contato com a gestão pública anteriormente. Quando eu era estudante, o meu pai, Chico Whitaker, foi vereador de São Paulo por dois mandatos, e eu acompanhei de perto as administrações Luiza Erundina (1989-1992) e Paulo Maluf (1993-1996). Depois, eu fui assessor na gestão Marta Suplicy (2001-2004) na Sehab (Secretaria Municipal de Habitação) e acompanhei de forma muito próxima a Ermínia Maricato quando ela foi secretária executiva do Ministério das Cidades (2003-2005).
Portanto, quando me tornei secretário, eu tinha uma boa ideia do que era a gestão, mas eu não tinha experiência em um cargo de responsabilidade – ainda mais à frente de uma cidade do tamanho de São Paulo, cuja população é um terço maior que a de todo Portugal, por exemplo, com toda a complexidade que isso representa.
A contribuição dessa experiência para as minhas reflexões acadêmicas foi gigantesca. Hoje estou convencido de que, no Brasil, quem trabalha com planejamento urbano deve ter que passar por um estágio na gestão real, qualquer que seja. Isso é necessário porque quem está fora constrói uma imagem crítica – que é correta, pois esse é o papel da academia –, mas que muitas vezes não consegue apreender todos os detalhes e os aspectos que influenciam a governança pública. Não consegue apreender também as pressões e os constrangimentos de todo tipo – jurídicos, burocráticos, administrativos, financeiros, políticos etc.
Por isso, muitas vezes, a análise da academia é muito forte do ponto de vista da sua estruturação e crítica teóricas, mas pode ser ingênua e simplista ou até maniqueísta, no sentido de uma simplificação da realidade. A academia exige, às vezes, coisas que são bastante razoáveis, aceitáveis e desejáveis na teoria, mas que na prática são completamente impossíveis. É fundamental que os acadêmicos – em especial em áreas aplicadas à realidade – compreendam esse descompasso entre academia e gestão real, para que possamos ser mais objetivos nas nossas ponderações e críticas, e para que as proposições sejam mais efetivas, se calcando na realidade da gestão e da governança.
A minha experiência na gestão pública abriu um campo de pesquisas gigantesco justamente dentro dessa dimensão dos procedimentos, dos processos e das dinâmicas de governança e de governabilidade de gestão, que são fundamentais para fazer a política pública urbana no Brasil.
Por outro lado, minha origem acadêmica trouxe uma qualidade diferente para a atuação na gestão pública. Foi muito importante eu e outros da minha equipe termos vindo da academia. Essas pessoas tinham um tipo de metodologia de trabalho e uma capacidade de reflexão que contemplavam certo recuo. Esse recuo não é possível entre as pessoas que só têm experiência na gestão, pois a gestão é avassaladora – quem está lá trabalhando é engolido pelas demandas do dia a dia, das urgências e das necessidades.
Na nossa gestão, acho que conseguimos levar adiante o Plano Municipal de Habitação de São Paulo com uma cara completamente diferente do que vinha sendo feito até então. Os planos anteriores eram essencialmente políticos – se preocupavam em ficar mostrando realizações e intervenções pontuais, sem estruturar uma política em longo prazo.
Nossa ideia foi fazer um plano estruturante, que não entrasse diretamente na disputa das definições de “para quem” e “onde”, mas propusesse antes um fio condutor, uma política de Estado perene, que pudesse ser seguida no futuro por qualquer gestão, apontando estratégias e modalidades de enfrentamento do déficit habitacional, com prazos, linhas de políticas e definições claras do que esse déficit de fato significa.
As definições de ação no território e de áreas e populações a serem beneficiadas ficaria para Planos de Ação Quadrienais que, a cada início de governo, repactuariam as ações em função de suas prioridades, mas sempre tendo um fio condutor para dar continuidade. Foi possível fazer dessa maneira porque a equipe tinha um aporte metodológico e acadêmico.
Qual seu balanço da política urbana brasileira nas últimas décadas?
É inegável que a política urbana no Brasil avançou no sentido da implementação de políticas efetivas, tanto no âmbito dos marcos legais – como os planos diretores, planos habitacionais e leis de uso do solo –, como na compreensão geral da problemática urbana a partir de uma perspectiva integrada, envolvendo questões relativas à infraestrutura, à mobilidade, à habitação, aos equipamentos e serviços etc. Também houve um avanço na presença dessa pauta na agenda política.
Nas últimas eleições, por exemplo, a questão urbana e habitacional entrou na agenda política eleitoral mais fortemente. Existem muitos aspectos positivos e avanços inegáveis a partir das mobilizações da Frente Nacional pela Reforma Urbana e da luta pela aprovação do Estatuto da Cidade e da instauração e atuação do Ministério das Cidades. Isso se deu sobretudo nos primeiros anos de existência do ministério, antes que ele fosse “negociado” nos acordos de governabilidade, tendo sua autonomia e eficácia drasticamente reduzidas.Isso foi, porém, mitigado: na mesma proporção em que houve avanços, também houve estagnação.
Existe um problema de incompreensão da importância da questão urbana no quadro político e social brasileiro, ou seja, do papel central que a política urbana deve ter. Talvez esse avanço tenha se dado no seu próprio meio, isto é, no mundo dos urbanistas comprometidos com a transformação urbana. No círculo dos urbanistas não comprometidos com a transformação urbana, a questão avançou de maneira perversa, pois setores como o mercado imobiliário aprimoraram as maneiras de instrumentalizar a política urbana.
Ainda não há hoje no Brasil uma compreensão de que tudo começa pelo urbano. Houve essa compreensão a respeito da educação e da saúde, mas as pessoas não entendem que a moradia digna com qualidade, com serviços, com salubridade e saneamento ambiental é um ponto de partida fundamental para a cidadania, para condições de vida dignas, para a possibilidade de uma boa educação e para a manutenção da saúde.
Essa desconsideração da problemática urbana fica evidente, por exemplo, quando observamos a ínfima porcentagem de recursos dos orçamentos municipais direcionados para a problemática habitacional.A habitação continua sendo um problema invisível, dissociado da questão urbana e, portanto, ao qual não se dá nem importância nem dinheiro. E a questão da urbanidade – esta central nas agendas políticas e eleitorais – é desvirtuada por interesses econômicos de empreiteiras de grandes obras, que ainda são pautadas por uma cultura de vias expressas e mobilidade focada no automóvel que vem dos anos 1970.
Continuamos, enfim, em uma lógica que não é a da integração de uma política urbana em busca de uma cidade mais democrática, boa de se viver e que englobe todas as questões para além da simples realização de obras. Esse aspecto ainda é agravado pelo fato de que o período de crescimento acelerado da economia que o país viveu nos governos Lula e no começo do governo Dilma exacerbou, de uma maneira muito antagônica, os problemas urbanos.
A melhoria de uma situação econômica focada em uma lógica de capitalismo extremo, hiper-consumista e ultraliberal com pouquíssima regulação tem efeitos devastadores sobre a cidade – o aumento da frota de veículos, obras viárias e impermeabilização do solo são alguns exemplos. Esses elementos estão relacionados ao aumento da atividade produtiva e à melhoria da economia, mas são desastrosos do ponto de vista urbano. Então, as crises urbana e ambiental aumentaram muito nas últimas décadas também em função do crescimento e do dinamismo econômico. É um fato, embora contraditório.
Eu considero que a questão da regulação é a mais importante sobre esse assunto. Se fizermos um balanço da política urbana brasileira, vamos nos deparar com uma observação inescapável: nós não temos no Brasil uma equação de forças políticas que dê ao Estado a capacidade de estabelecer regras e fazer uma regulação real. Isso acontece mesmo em situações em que o Estado é bem-intencionado e ocupado por pessoas com interesses legítimos de transformação democrática e social, o que é uma exceção, pois na maioria das vezes o Estado é cooptado por interesses patrimoniais e de setores dominantes. Essa capacidade é muito limitada e é influenciada pelos lobbies, pelas pressões e pela lógica mesma do funcionamento da política, que ainda se alimenta da miséria.
Na perspectiva do urbano isso é ainda mais latente, porque a política urbana necessita de enorme regulação e é muito incisiva em vários aspectos, como as formas de ocupação e uso do solo. A experiência que tivemos em São Paulo serviu para mostrar que quando há uma real vontade política de enfrentar os interesses dominantes na ponta – porque é nos municípios onde os conflitos reais acontecem –, há uma enorme possibilidade de fazer regulação. No entanto, normalmente esses processos são ceifados depois de quatro anos por causa da implacável relação de poder que impede que esses governos tenham vida suficientemente longa para implementar transformações. Uma das características principais da questão das políticas urbanas é que elas precisam de no mínimo dez ou doze anos de continuidade para se efetivarem e terem efeito – muito mais, portanto, que os quatro anos de um governo.
Na sua avaliação, houve avanços concretos no período em que o Ministério das Cidades existiu?
Por si só, a criação do Ministério representou um avanço gigantesco, sinalizando que finalmente havia sido dada à questão urbana um status de centralidade suficiente para que existisse um ministério dedicado a ela. A prova disso é que no retrocesso atual esse ministério foi desmontado e inserido no Ministério do Desenvolvimento Regional, com uma justificativa pífia. É claro que a questão urbana está inserida em uma discussão maior sobre o desenvolvimento regional, mas ela teria que ter a especificidade e a dedicação de um ministério próprio.
Além disso, eu acho que o Ministério das Cidades estabeleceu um processo participativo de discussão do urbano que incorporava as Conferências das Cidades – estaduais, municipais e nacional – e os conselhos nacionais vinculados ao Ministério. O órgão estabeleceu uma metodologia e um processo de governança participativa vertical, do município à União, que tentou costurar as três esferas de governo. Sem essa governança, teria sido impossível trabalhar a questão urbana, que justamente carece de uma compreensão da sua mescla em diversas esferas de governo.
Além disso, é muito importante destacar a retomada da questão da habitação social como uma problemática central para a questão urbana e com isso o desenvolvimento do programa federal Minha Casa Minha Vida (MCMV). Apesar de todos os seus problemas, é um programa que recolocou a questão habitacional nas prioridades das políticas sociais brasileiras. No geral, o Ministério das Cidades teve muitos avanços.
A construção de uma lógica integrada e transdisciplinar dos aspectos da mobilidade, do saneamento, da habitação e do desenvolvimento urbano foi outro elemento importante.
É claro que o Ministério das Cidades teve muitos problemas, em parte pela falta de centralidade política da questão urbana. Isso fez com que o Ministério fosse colocado em um rol de ministérios negociáveis para a manutenção da governabilidade e, portanto, funcionou parcialmente, depois dos primeiros anos, na lógica do balcão do atendimento político aos interesses dos municípios.
Em 2001, você e a professora Ermínia Maricato publicaram o artigo “Estatuto da Cidade: essa lei vai pegar?”, poucas semanas após sua aprovação. O que podemos tirar de lição quase vinte anos depois?
O balanço do Estatuto da Cidade é mais negativo que positivo. O Estatuto colocou de fato um instrumental de regulação pública à disposição dos municípios, para que eles pudessem enfrentar as questões mais centrais dos desequilíbrios urbanos no Brasil, sobretudo a questão da regulação da função social da propriedade, do mau uso da propriedade urbana, da manutenção de terrenos vazios em áreas centrais e da falta de estoque de terras públicas para políticas habitacionais como a locação social e a reabilitação de imóveis. O Estatuto da Cidade, a partir da Constituição de 1988, trouxe um enorme avanço. É um marco regulatório que estabeleceu um conjunto de regramentos possíveis, que poderia dar aos municípios um poder de alterar o jogo de forças citado anteriormente.
A força do Estatuto da Cidade pode ser medida pela dificuldade de sua aprovação. Foram treze anos para regulamentar os artigos da Constituição relativos à reforma urbana, o que mostra que esse era um assunto que atingia interesses muito específicos e poderosos. Adicione a isso o fato de ele ter sido aprovado com uma série de inclusões que foram fruto de negociações por conta de pressões do mercado imobiliário. As operações urbanas consorciadas são o maior exemplo disso.
Houve, na tramitação do Estatuto da Cidade, concentração de esforços de todos os movimentos ligados à reforma urbana no Brasil, focados na proposição de uma lei federal que respondesse a todos esses anseios. É muito difícil, porém, fazer um marco regulatório que possa ser autoaplicável em mais de cinco mil municípios, que são absolutamente diferentes e têm uma variedade e uma heterogeneidade fenomenais. Portanto, o Estatuto da Cidade não poderia ser autoaplicável, e assim ele cria uma série de leis que ficaram dependendo da regulação municipal.
Uma vez que essa luta foi ganha para criar esse instrumento no nível federal, haveria uma segunda luta de “explodir” esse Estatuto nos milhares de municípios brasileiros, ou seja, capilarizar essa luta – pelo menos nos municípios de médio ou grande porte, onde essas questões são mais prementes. Isso necessitaria uma capacidade de mobilização social fenomenal, demandando uma compreensão do conjunto da sociedade e dos políticos da importância da centralidade da questão urbana e habitacional, que está, como eu disse anteriormente, muito aquém do que deveria ser no Brasil. Na hora de fazer essa transposição para as regulamentações municipais, o Estatuto da Cidade, de fato, estagnou.
Isso é explicado pelo fato de que é na ponta, nos municípios, que se dá o verdadeiro confronto em torno da propriedade da terra e da sua função social, bem como da atuação do mercado imobiliário. É no nível local que está o verdadeiro confronto entre os atores – o dono de terra, o coronel, o incorporador, o agente responsável pelos grandes loteamentos.
Cada município tem que resolver de maneira bastante solitária esse enfrentamento para aprovar os instrumentos do Estatuto da Cidade, que são complexos e muitas vezes chegam em municípios que nem sequer têm a capacitação técnica para elaborar ou estruturar esses planos diretores. Isso se dá geralmente em um quadro de fortíssima contenda e polarização com o setor imobiliário e com o setor fundiário, que vão jogar com todas as suas cartas e todo o seu peso político para influenciar as decisões.
Os políticos locais são muitas vezes também os donos de terra – famílias de políticos que são muitas vezes proprietárias de metade de uma cidade. Nesses casos, o poder público, que deveria ser o encarregado de estabelecer o funcionamento dos instrumentos do Estatuto da Cidade, muitas vezes é tomado, cooptado e capturado pelas elites que são quem os instrumentos deveriam combater. Observa-se, portanto, um forte antagonismo do ponto de vista da aplicação municipal do Estatuto da Cidade.
É por essas razões que, passados quase vinte anos de sua criação, muito poucas cidades no Brasil tomaram o Estatuto da Cidade para promover a reforma urbana e enfrentar esses interesses poderosos – e que realmente fizeram uma aplicação de maneira integrada e sistêmica dos vários instrumentos. Acho que São Paulo, no Plano Diretor de 2014, foi uma das que mais avançou nesse sentido. Mas, ainda assim, o retrocesso atual já está promovendo um desmonte desse plano diretor.
Não acredito que haja algum município no Brasil que tenha efetivamente implementado o Estatuto da Cidade. Não se trata de um problema técnico, é um problema essencialmente político – no Brasil nós não temos uma correlação de forças para sua implementação, e os últimos acontecimentos políticos deixam isso bem claro. O conservadorismo ainda dá as cartas e, do ponto de vista dos interesses poderosos dos grandes proprietários e de grandes empreendedores, ainda são eles que dão as cartas no âmbito municipal. É muito difícil conseguir fazer a regulação pública desses interesses e fazer políticas públicas que regulem essa dinâmica sobre o urbano.
O Minha Casa Minha Vida completou dez anos, tendo sido fortemente criticado no campo dos estudos urbanos sobre os mais diversos aspectos: socioeconômicos, fundiários, geográficos etc. Como você avalia o programa e as críticas feitas?
A minha opinião sobre o MCMV é diferente daquela do mainstream do pensamento urbano de esquerda no Brasil que, desde 2009, produziu uma reflexão apressada sobre o programa e, por conta disso, se tornou uma crítica um pouco simplista e maniqueísta. Quando o programa foi lançado, por exemplo, já havia artigo publicado apontando que ele levaria a um desastre.
Uma dessas críticas às quais eu não me alinho é de que o MCMV teria sido muito mais um programa de caráter econômico do que habitacional. Ele foi sim um programa de caráter econômico – o próprio ex-presidente Lula expôs isso com todas as letras –, mas um programa de financiamento habitacional que surgiu inteligentemente para produzir um fenômeno anticíclico frente à crise internacional.
A aposta foi na alavancagem da construção civil que é baseada em insumos nacionais e demanda muita mão de obra e, portanto, bastante independente da economia internacional. Essa política econômica anticíclica era compatível com a necessidade de dar resposta ao déficit habitacional. Portanto, só vejo virtudes.
Outra crítica diz respeito ao espraiamento urbano. Após a Constituição de 1988, a prerrogativa da política territorial e em parte da habitacional passou a ser dos municípios. Porém, ao atribuirlhes muita responsabilidade sem ofertar capacidade financeira, o resultado é uma enorme dificuldade desses entes federativos em promover qualquer tipo de política urbana e habitacional. Retomamos, portanto, o debate sobre a regulação. O MCMV, de fato, dava muita força para o setor da construção civil no âmbito local, justamente onde os municípios têm muito pouca força de regulação. Quando essas duas forças desiguais se encontram, os efeitos são nefastos.
Os municípios em geral não têm capacidade de colocar condições e de fazer negociações, portanto, as empresas da construção atuavam com uma liberdade total no nível local – como por meio da criação de reserva de terras. O resultado foi a forte especulação imobiliária em torno do MCMV, pois as áreas passíveis de serem beneficiadas tiveram seus valores multiplicados muito rapidamente.
Essa crítica que se faz ao programa, na verdade, deveria estar sendo atribuída à pouca capacidade de regulação dos municípios e, a rigor, não ao programa em si, mas ao fato de se propor um programa que não levasse em consideração essas dificuldades. A produção do espraiamento urbano é uma responsabilidade das prefeituras, dos planos diretores e leis de uso do solo. Era delas a capacidade de evitar a segregação e a exclusão geradas pela construção dos conjuntos habitacionais do MCMV em zonas periféricas.
Também se fala muito que o MCMV foi uma porta de entrada para a financeirização da produção habitacional no Brasil. Eu considero essa afirmação uma aberração. Se levarmos em conta a produção destinada à Faixa 1, o programa poderia ser considerado até mesmo como parte de uma política de tipo keynesiana, visto a forte intervenção do Estado. Não foi, pois, como sabemos. Não houve a estrutura de um estado de bem-estar social por trás. Mas foram bilhões de reais investidos pelo governo, boa parte através de investimento público oneroso a fundo perdido.
Não é possível classificar isso como financeirização. Mesmo no caso das Faixas 2 e 3, é relativo utilizarmos essa etiqueta da financeirização, pois o financiamento se deu via FGTS. É absolutamente normal que o financiamento da política habitacional ocorra por intermédio do sistema bancário; foi e é assim no mundo todo. Na França, até hoje o que sustenta a potente política de locação social é a caderneta de poupança (Livret A).
Dizem também que o MCMV não deveria ter criado as Faixas 2 e 3. O problema é que no Brasil o mercado imobiliário sempre produziu apenas para faixas de altíssima renda (triple A) e nada para as faixas intermediárias. Essa população de renda entre cinco e dez salários mínimos não tinha opção de acessar a habitação pelo mercado. A partir do momento em que essas faixas passaram a ser financiadas – inclusive com subsídios do FGTS, não necessariamente com recursos não onerosos –, atendiam a uma classe média que, sem esse benefício, poderia acabar por capturar o subsídio que era destinado à Faixa 1, que foi o que ocorreu com o BNH. Portanto, essa amplitude do programa em atender a todas as rendas foi importante para não gerar desequilíbrios que prejudicassem o funcionamento da política habitacional.
Nós, urbanistas, gostaríamos que tivessem sido implementados a boa localização dos empreendimentos, a maior densificação das áreas centrais, a associação desses empreendimentos às políticas de mobilidade locais etc. Mas essa não implementação deve ser colocada na conta dos municípios e da correlação de forças políticas que não permitiram que eles efetivassem o Estatuto da Cidade de forma a se prepararem para o “caminhão” de dinheiro trazido pelo MCMV.
Eles continuaram tendo um sistema arcaico, dominado pelo setor empresarial local e pelas empresas construtoras, sujeitos aos cartéis de transporte e de lixo. Não houve uma preocupação com a regulação pública para o manejo fundiário, que é o que mais diferencia o Brasil dos países do capitalismo central. Isso é uma herança do patrimonialismo e da formação nacional, que resulta num Estado constantemente a reboque dos interesses privados, atuando como se fosse um player do mercado, tendo que respeitar valores e preços colocados pelo mercado. Ou seja, não há capacidade de interferência na modelação e na implementação de regulações efetivas. Não que por lá tudo seja uma maravilha, pois essa estrutura se desmonta pouco a pouco.
De fato, se todo aquele recurso do MCMV chegasse a municípios com uma forte capacidade de regulação e com poder para enfrentar os lobbies fundiários e imobiliários. Se tivessem realizado o estoque de terras em áreas bem localizadas por meio dos instrumentos que o Estatuto das Cidades disponibiliza – o usucapião coletivo, o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), as desapropriações para fins sociais, as ZEIS etc. –, promovendo, enfim, todos os instrumentos existentes, teríamos tido municípios com uma capacidade muito maior de receber os subsídios aportados pelo MCMV e em condições de utilizálos com mais efetividade para uma transformação urbana real, de boa qualidade e democratizante.
Há uma crítica não construtiva que simplifica o MCMV, atribuindo a responsabilidade de todos os males ao programa, ignorando a complexidade da política pública e incorrendo em uma análise incompleta dos atores.
Além disso, é importante levar em conta que o pacto federativo existente no Brasil dificulta uma política dessa amplitude. Temos no Brasil uma “cultura do pacote”, que credita uma solução milagrosa a “pacotes” de políticas públicas que teriam a capacidade de resolver todos os problemas em uma tacada só. Falta-nos a cultura da política perene e evolutiva por meio da fiscalização da sociedade e dos entes envolvidos.
O MCMV foi interpretado um pouco assim, como um “pacote” que deveria ser milagroso, embora poucos lembrem que o Ministério das Cidades o fez evoluir duas vezes, tentando corrigir inúmeros problemas. Em São Paulo, fizemos nossa parte propondo inúmeras alterações, como o aporte municipal para garantir a manutenção dos elevadores em conjuntos na modalidade Empresarial do programa. Infelizmente, ele foi interrompido antes que pudéssemos ampliar esse processo de evolução crítica.
Tendo o programa sido criado por uma gestão de esquerda, você não avalia uma contradição?
O MCMV teve avanços absolutamente indiscutíveis, mas as pessoas, normalmente no campo do urbanismo, têm dificuldades em enxergar. Quais foram esses avanços?
Como já comentei, o modelo do BNH de acesso à casa própria mediante pagamento não permitia que uma população muito pobre fosse contemplada, pois o público atendido deveria ter uma capacidade mínima de pagamento, ou seja, havia a necessidade de garantir a solvabilidade dos beneficiados.
Por ser uma produção destinada à população de baixa renda via acesso à propriedade mediante pagamento, essas moradias acabavam sendo “drenadas” pela classe média. Isso acontecia porque não havia uma preocupação com a demanda de moradia pela população com renda entre cinco e dez salários mínimos. Nem o BNH nem o mercado se interessavam por essa faixa de renda – este último estava interessado em atuar no mercado para alta renda.
Portanto, o MCMV foi um avanço no sentido de encarar a política habitacional na sua totalidade, oferecendo habitação não apenas para a faixa de renda muito baixa. De um lado, ele propôs uma política de financiamento com fortes subsídios onerosos – portanto sem retorno, a fundo perdido – para a população muito pobre, ofertando a casa praticamente de graça (Faixa 1). De outro, criou uma política intermediária de financiamento subsidiado para uma população com renda média e média-baixa (Faixas 2 e 3) pelo viés do mercado e com financiamentos facilitados, garantindo uma completude à política habitacional que fazia diminuir a pressão sobre as populações de renda mais baixa.
Assim, pela primeira vez, a população de muito baixa renda recebeu, de fato, dinheiro a fundo perdido, ou seja, dinheiro oneroso que é colocado pelo Estado sem perspectiva de retorno. Foi uma política diretamente direcionada a uma população muito pobre que não tem como acessar a casa pelo viés privatista, isto é, tendo que pagar por ela. O programa estabeleceu um pagamento, um mínimo social, e essa distribuição ocorreu de maneira mais acentuada e acessível. Foram praticamente 1,8 milhão de unidades produzidas para uma população realmente muito pobre. Isso foi uma novidade em políticas habitacionais no Brasil.
Outro avanço foi o de colocar o enfrentamento do déficit habitacional como uma das principais políticas de governo, o que é em si uma novidade. No total, o MCMV produziu em cinco anos o equivalente ao BNH em vinte: cerca de quatro milhões de unidades. Pode-se dizer que esse número é “esticado”, pois 1,8 milhão dessas unidades foi para a população de renda muito baixa. Mas é importante lembrar que o BNH não produziu praticamente nada para essa faixa.
Claro que o MCMV teve também inúmeros problemas, um deles em relação à questão territorial e ao papel dos municípios, como já foi dito. Outro, mais grave, foi a ausência da discussão da arquitetura e do desenho urbano, que poderiam impor parâmetros de qualidade às construtoras que, de fato, se viram completamente livres nesse quesito. A importância do projeto de arquitetura não foi assimilada no programa, e os órgãos de classe – Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) – viram o trem passar sem dar a menor bola.
Tudo isso mostra que, apesar das dificuldades, há uma avaliação positiva a ser feita e que corresponde com o que se deveria esperar de governos de esquerda. Portanto, eu não acho que haja uma contradição como apontada na pergunta. Acho que todos esses aspectos caracterizam o MCMV como uma política fortemente ancorada numa lógica progressista em relação à questão habitacional. Se o programa tivesse tido uma continuidade, várias coisas poderiam ter sido alteradas e melhoradas.
Claro, sempre há a questão de que o governo possuía, no PlanHab (Plano Nacional de Habitação), um plano muito mais ambicioso, completo e de maior qualidade para a política habitacional, que foi seguido apenas em alguns aspectos pelo MCMV, que era, antes de tudo, um programa de financiamento e não uma política habitacional.
Mas a política real se faz no contexto real, e acredito que o MCMV era o que era possível naquele momento. Poderia ter servido para, aos poucos, ir se implementando os princípios do PlanHab, um plano maravilhoso, mas muito complexo de por em prática na composição federativa e correlação de forças políticas.
Há algumas experiências de êxito no MCMV, sobretudo na modalidade Entidades (FDS). Qual a sua opinião sobre essa modalidade e a atuação de agentes não hegemônicos na participação da produção habitacional do MCMV?
A criação da modalidade Entidades propiciou uma variedade de ações bastante interessante. A sua grande virtude foi de resgatar a importância da produção autogestionada e permitir que ela continuasse existindo dentro da política habitacional.
O Programa Crédito Solidário(2) já vinha desempenhando o papel de valorizar essa lógica da autogestão, dos mutirões e do associativismo, elementos que seriam oficializados pela modalidade Entidades no nível federal; e é importante lembrar que sua criação envolveu a União Nacional por Moradia Popular (UNMP), a União dos Movimentos de Moradia (UMM) e representantes de outros movimentos populares. Trata-se, portanto, de uma modalidade que não foi imposta “de cima para baixo”, mesmo quando consideramos que dentro de uma correlação de forças esses movimentos não tinham muita escolha.
Alguns empreendimentos construídos por meio desta modalidade chegaram a ter 3.500 unidades habitacionais. Além disso, em termos nominais, podemos dizer que o maior produtor de moradias do MCMV estava contemplado pela modalidade Entidades. Ao constatarmos que algumas associações tiveram capacidade de produção equivalente a do setor empresarial, é necessário que haja uma reflexão acadêmica profunda do fenômeno. O MTST em São Paulo e a UNMP no Nordeste produziram muitas unidades.
O MTST, por exemplo, construiu conjuntos que vão de 1.800 a 3.500 unidades, tornando-se um dos maiores (senão o maior) produtores de habitação social, mesmo em relação ao setor empresarial. Quando essas entidades deixaram de ser apenas simples associações autogestionárias e assumiram um perfil altamente empresarial, elas se transformam em atores que competem diretamente com empresas do ramo da construção civil. Fizeram isso sem a busca do lucro e sem estarem calcadas no índice BDI.(3) Tratou-se, portanto, de uma produção em massa, de tipo industrial, mas gerenciada por movimentos sociais e sem fins lucrativos, o que é indiscutivelmente interessante.
Esses movimentos não produziram esse enorme volume de moradias sozinhos. Eles realizaram um gerenciamento empresarial e contrataram empresas construtoras. Acredito que este ponto merece uma reflexão: se uma construtora é contratada por uma entidade que não é calcada no lucro e nem no índice BDI e mesmo assim pode produzir obtendo vantagens econômicas, é necessário que se abram as planilhas do setor empresarial para sabermos qual têm sido a margem de lucro dessas empresas.
O problema é que, no Brasil, o nível de regulação pública é tão insignificante que o Estado tem pouquíssima interferência nesse tipo de discussão. Nos países europeus, o Estado chega a tabelar inclusive os lucros dessas empresas na produção de habitação social.
Dentre as várias críticas feitas ao MCMV, existe aquela que sinaliza uma baixíssima produção habitacional pela modalidade Entidades quando comparada à modalidade Empresarial. O programa é criticado porque fez a vontade do mercado imobiliário e do mercado da construção civil. Mas essa é uma confusão que a academia faz, já que esses dois mercados não são a mesma coisa, embora possam se misturar muitas vezes. O que o MCMV fez foi incentivar e se associar ao mercado da construção civil. A forte valorização especulativa de terras decorrente do MCMV, essa sim fez o setor imobiliário atuar de forma prejudicial ao programa. Num país que tem um déficit de mais de seis milhões de moradias, querer enfrentar a questão habitacional sem estar associado ao setor da construção civil é a mesma coisa que não fazer nada.
Da mesma maneira, é nonsense achar que se pode resolver o déficit apenas através da modalidade Entidades. Chico de Oliveira já havia chegado a essa conclusão ao criticar os mutirões e afirmar que para resolver o déficit habitacional brasileiro é necessária uma produção em massa do setor da construção civil, muito embora, ao fazer tal crítica, ele deixasse de lado, ao meu ver, a contribuição imprescindível dos mutirões autogeridos na qualidade da arquitetura e na recomposição do tecido social e da organização política.
Qualquer política habitacional para ser efetiva precisa equacionar a questão do mercado da construção civil e dar a ele um papel de protagonismo. O problema é que essa produção não pode ser feita sem nenhuma regulação.
Portanto, eu não acredito que a modalidade Empresarial e a modalidade Entidades devam ser iguais e que o fato delas não serem iguais em quantidade signifique um favorecimento ao setor empresarial. É normal, dada a natureza de cada uma das modalidades, que o setor empresarial tenha uma capacidade de produção muito maior do que as entidades. No entanto, é preciso questionarmos por que se produziu tão menos na modalidade Entidades.
E a resposta, mais uma vez, recai sobre a responsabilidade dos municípios. Se houvesse uma vontade política e um comprometimento real dos municípios em potencializar e ampliar a produção, a modalidade Entidades teria sido muito mais significativa. Porém, em muitos municípios e em muitos estados do Brasil, observou-se uma espécie de perseguição sistemática aos movimentos e ao modelo autogestionário.
A modalidade Entidades foi tolhida e desconsiderada pelos governos, e até combatida pelo Ministério Público. Portanto, o problema não é essa modalidade ter sido proporcionalmente menor, mas ter sofrido um processo de boicote político. No Brasil, as entidades são perseguidas e criminalizadas. O MCMV Entidades vem sendo questionado pelo Ministério Público Federal. O problema não é o MCMV, mas a disputa política que se dá em torno do programa.
O que explica os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul liderarem as contratações de unidades habitacionais pela modalidade MCMV Entidades?
Existem algumas explicações possíveis. Uma primeira explicação para essa superioridade de São Paulo vem do fato que a força organizativa e a existência histórica de movimentos de moradias organizados são muito grandes proporcionalmente ao resto do Brasil. Era normal que houvesse uma maior capacidade desses movimentos de responder aos chamamentos e às exigências da modalidade Entidades. Isso acarretou um número grande de adesões, resultando em quantidade de contratações maior nesta modalidade. Eu suspeito que no caso do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, especificamente, o número alto de contratações pela modalidade Entidades se deu pelas várias gestões seguidas do PT. Essas gestões estavam em consonância com a forte organização de movimentos sociais de moradia, maior também neste caso do que a média no Brasil. São fatores que há de se considerar, mas não os únicos.
Outra explicação seria a atuação das prefeituras. Na gestão Gilberto Kassab, entre 2009 e 2012, quando o MCMV começava a ser implementado, a cidade de São Paulo tinha uma produção muito marqueteira de habitação social. Eram projetos feitos por grandes arquitetos – geralmente sem concurso público e com contratações diretas “negociadas” pela prefeitura com empreiteiras –, mas com um número irrelevante de produção: em oito anos se fez o equivalente ao que a gestão anterior da Marta Suplicy tinha feito em quatro. Em relação ao MCMV, foram pouco mais de oito mil unidades do Faixa 1 Empresarial nesse período. No Rio de Janeiro, sob um governo muito problemático, mas alinhado ao governo federal, foram feitas 37 mil unidades do Faixa 1 nesse mesmo tempo. Isso mostra que o alinhamento político municipal e estadual com o governo federal traz diferenças no nível de produção do MCMV. E isso também vale para a modalidade Entidades.
Quando me tornei secretário em São Paulo, tivemos uma preocupação grande em atender a modalidade Entidades. Ao colocamos para chamamento público a contrapartida municipal, que eram terrenos públicos, eles foram divididos meio a meio: cerca de oitenta terrenos para o MCMV Entidades e oitenta para o MCMV Empresarial. Na época, eram onze mil unidades previstas para contratação pela modalidade Entidades. Foram encaminhadas para a Caixa Econômica Federal um número de unidades pela modalidade Entidades que representava 27% do total do que estávamos propondo produzir. Em termos de comparação, em Florianópolis, isso representava menos de 5% do total.
Na sua avaliação, qual deveria ter sido o papel do Ministério das Cidades na regulação do MCMV?
O Ministério das Cidades foi aperfeiçoando o MCMV, estabelecendo novas regras nas versões posteriores do programa (MCMV 2 e MCMV 3). É visível a ampliação do grau de controle, por exemplo, por meio da criação de uma comissão para analisar todos as propostas de empreendimentos com mais de 1.500 unidades habitacionais, o estabelecimento de um limite de trezentas unidades por condomínio, ou a obrigação que os empreendimentos fossem construídos em áreas de expansão urbana ou áreas contíguas à malha urbana consolidada.
Assim, o programa em nível federal tentou amenizar os problemas locais, mas essa foi uma tarefa difícil. Em muitos casos, as prefeituras autorizavam a construção de dez condomínios de trezentas unidades cada, um ao lado do outro, burlando o limite estipulado. Em outras situações, a Câmara municipal decretava que a fazenda de um político localizada a 20 km do centro da cidade se tornasse uma área de expansão urbana. Esses exemplos mostram a dificuldade de se fazer política urbana e territorial de qualidade a partir de regras colocadas em nível federal. Havia muito conchavo entre prefeituras e construtoras, às vezes funcionando como um balcão de negócios para a venda de projetos de empresas na incumbência de prefeitos providenciarem terrenos distantes para grande produção habitacional na Faixa 1, e simultaneamente a disposição de terrenos um pouco melhores em áreas mais centrais para a Faixa 2.
E, quando o Ministério das Cidades percebeu esses problemas, tentou “correr atrás”. Em pequenos municípios do interior das regiões Norte e Nordeste, algumas exigências colocadas pelo Ministério das Cidades faziam com que o bairro do conjunto habitacional do MCMV tivesse mais infraestrutura urbana, pelas exigências do programa, do que os bairros ricos daquela cidadezinha. Quando fui consultor do Ministério das Cidades, presenciei prefeitos reclamando sobre o grau das exigências colocadas pelo programa, dizendo que “o bairro do MCMV vai ficar mais chique do que o bairro chique da cidade”. Mas são realidades muito diversas; de um lado, uma cidade pequena numa região mais pobre, de outro, uma cidade média crescendo numa região de grande atividade econômica, ou ainda grandes centros urbanos do tamanho de um pequeno país, como o Rio ou São Paulo. Na verdade, há uma grande disparidade de situações.
Quais são, para mim, os problemas mais efetivos que podem ser colocados como de responsabilidade do MCMV? Do ponto de vista técnico, o MCMV pecou em dois pontos: na questão da densidade como instrumento de análise da inserção urbana – pois não levou em conta a importância das densidades construtiva e demográfica para definir gabaritos menos impactantes nos conjuntos produzidos em cidades pequenas e médias – e na questão da qualidade arquitetônica e de implantação urbana, como já disse, que não foi suficientemente assimilada pelos idealizadores do programa no Ministério das Cidades.
E, aqui, reforço minha forte crítica aos arquitetos enquanto setor profissional, que tiveram atuação pífia no âmbito dos seus órgãos como IAB, CAU e sindicatos, no sentido de se colocarem como protagonistas de uma política que estava produzindo quatro milhões de casas no país. O nível de regulação do MCMV sobre a qualidade arquitetônica falhou, gerando um desastre ambiental e urbano de uma grande parte dos conjuntos, com um nível de qualidade bastante deplorável. Existe uma questão da qualidade arquitetônica que não é compreendida fora da “bolha” dos arquitetos urbanistas e que não parece importante para quem não é da área, mas que é fundamental para criar qualidade urbana.
A responsabilidade maior não é tanto do Ministério das Cidades, mas dos arquitetos e urbanistas, do CAU, do IAB e das entidades profissionais que tiveram um papel muito ausente nessa história – se compararmos com o papel que Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e outros arquitetos tiveram no contexto da construção de Brasília. A preocupação do CAU, quando criado, foi mais de acertar a cobrança do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e de fazer a regulamentação da atividade profissional do que de tomar parte em discussões desse tipo. Em São Paulo, o presidente de então argumentava que o CAU, legalmente, “não podia” atuar politicamente.
Este é um argumento capcioso e covarde, evidentemente, já que não se trata de atuar politicamente, mas sim de dar voz aos arquitetos em debates nacionais que dizem diretamente respeito à profissão. Estavam muito pouco atentos para o fato de que existia um programa inédito no país que, pela primeira vez na história, estava dando subsídios de cem bilhões de reais para produzir casa, e que isso ia redundar em uma produção com regras, e que o papel dos arquitetos poderia ter sido mais incisivo.
Vejam, por exemplo, os benefícios que poderiam ter sido alcançados com uma medida simples, se os projetos de arquitetura dos empreendimentos fossem retirados da responsabilidade das construtoras, tendo uma rubrica própria.
No MCMV, o projeto arquitetônico dos empreendimentos era apresentado pela construtora que realizava a obra. Eu defendia que o IAB e o CAU exigissem que o projeto fosse feito por meio de uma rubrica separada e independente da construtora. Mesmo que isso não impedisse as mesmas de apresentar projetos com seus próprios arquitetos, tal medida poderia dar aos prefeitos a possibilidade de exigir concursos de arquitetura próprios de forma a buscar qualidade para os projetos. Existiam muitos caminhos, como esse exemplo, para se valorizar a qualidade arquitetônica dos projetos.
Isso foi realmente uma falha do MCMV, mas, também, uma falha corporativa dos arquitetos e urbanistas. Na França, por exemplo, há uma polêmica no atual governo neoliberal de Emmanuel Macron que decidiu pelo fim da obrigatoriedade de concursos de arquitetura para projeto de habitação social que garantiram durante décadas a qualidade arquitetônica dos conjuntos produzidos.
A outra questão central que os arquitetos poderiam ter trazido para a discussão no âmbito do MCMV era a respeito das densidades. Trata-se de como trabalhar com parâmetros de densidade que permitiriam uma equação mais equilibrada em relação ao entorno, em relação à densidade existente em cada cidade, e que respeitassem as diferenças gritantes entre os municípios. Não há sentido, por exemplo, construir um conjunto de quatro andares sem elevador numa cidade como São Paulo em que se deve verticalizar em função das densidades e da demanda existentes.
O MCMV tinha uma normatização homogênea para todo o território e isso criava distorções muito grandes. Acredito que São Paulo tenha sido o único município que conseguiu negociar com o Ministério das Cidades a construção de conjuntos verticalizados e com elevador para a Faixa 1 – isso era permitido para a modalidade Entidades, mas não era permitido para a modalidade Empresarial.
Como já coloquei anteriormente, nós fizemos um acordo em que a Prefeitura se comprometia com a manutenção a médio e longo prazo desses equipamentos, garantindo assim que o Ministério das Cidades autorizasse a construção de edifícios verticalizados com elevador.
Isso demonstra que os municípios podiam ter uma atuação no sentido de melhorar a qualidade arquitetônica. A ausência de regulação da atuação das construtoras nos critérios de qualidade arquitetônica e urbanística trouxe para as Faixas 2 e 3 as metodologias de construção da Faixa 1. Ou seja, o resultado foi um nivelamento por baixo.
A equação entre qualidade e quantidade é fundamental e deve ser perseguida. Existe a necessidade justificável de atender ao enorme déficit habitacional e a emergência da demanda, e existe também o interesse político que pressiona pela velocidade na entrega dos empreendimentos, justificada pelos prazos eleitorais.
Trata-se de uma sintonia fina a ser feita, que impede que se façam projetos caríssimos assinados por arquitetos de renome e que acabam se distanciando do escopo do que seria a produção de habitação social, além de não atenderem a capacidade de produzir em quantidade. Mas também não se pode produzir casinhas de cachorro multiplicadas aos milhares sem nenhuma qualidade arquitetônica.
Na sua avaliação, qual foi a atuação da Caixa Econômica Federal na regulação do MCMV?
A Caixa Econômica Federal é uma operadora financeira, e foi dada a ela uma responsabilidade muito grande em relação à questão da qualidade da construção e dos projetos de arquitetura. Como a questão da qualidade dos projetos de arquitetura estava ausente das discussões, e os arquitetos não se interessaram por influenciar nesse debate, acabou deixando livre a CEF no papel de fiscalizadora única. Mais uma vez, os municípios poderiam estabelecer critérios, mas poucos o fizeram. Isso foi feito, portanto, a partir da lógica financeira da instituição.
Ressalto que, novamente nesse caso, o papel dos municípios poderia ser decisivo. São Paulo não é um parâmetro – por ser uma cidade que concentra muitos recursos e poderes quando comparada com a média dos municípios brasileiros –, mas vou utilizar como exemplo uma experiência positiva que tivemos na nossa gestão.
No gabinete da Secretaria de Habitação havia um funcionário que era contratado para ser nosso interlocutor com a CEF. Era um funcionário cedido pela CEF que havia trabalhado com o MCMV e era pago pela Prefeitura. Isso fazia uma enorme diferença no diálogo da Prefeitura com o banco e na proposição de inovações, como a dos elevadores. Isso demonstra que existiam caminhos maleáveis para alcançarmos soluções mais adequadas e mais inteligentes para o programa.
Em São Paulo, as parcerias público-privadas estão sendo promovidas como modelo ideal de provisão habitacional, e a PPP de Habitação do governo do estado é um exemplo disso. Apesar de muito criticado, esse modelo incorpora elementos alinhados a um ideal progressista de produção do espaço urbano tais como a implantação de empreendimentos em áreas urbanas consolidadas, a promoção de mistura social e a implementação de um sistema de locação social. Como explicar essa contradição? Qual a sua opinião sobre a PPP de Habitação?
Existe no Brasil uma simplificação a respeito da noção de parceria público-privada, que sempre considera o agente privado como nefasto e nocivo. Não podemos ficar – quando saímos da teoria para pensar em ações práticas de governo – reproduzindo esse discurso de sempre negar o mercado, pois nós vivemos numa sociedade de mercado, e é nela que seremos governo, até que surja alguma outra alternativa, o que no quadro atual me parece distante.
O debate deve ser sobre os termos estabelecidos nessas parcerias. E, nesse sentido, a questão da regulação que eu citei anteriormente novamente vem à tona. É verdade que as PPPs podem acabar funcionando como uma espécie de arranjo de favorecimento ao mercado imobiliário, e quando isso acontece perde-se o sentido de “parceria”; torna-se, portanto, uma instrumentalização da parceria para fins específicos de favorecimento do mercado. Vamos convir que normalmente essa é a maneira como se faz PPP no Brasil.
Mas existem parcerias e parcerias. Essa PPP de Habitação no centro de São Paulo é um bom exemplo que permite destrincharmos essa discussão e percebermos onde estão esses desvios. É importante levarmos em conta que ela se destina a promover HIS sob a forma de uma espécie de locação social em que o morador tem a opção de aquisição do imóvel, como num leasing. Ou seja, essa família paga uma mensalidade de locação, e o pagamento mensal pode se converter num pagamento para aquisição do imóvel.
Qual o problema disso? O problema nesse caso não é a PPP em si, mas a quem ela se destina. Não dá para afirmar que essa é uma HIS, pois habitação social de fato no Brasil é destinada a população de zero a três salários mínimos. Vinculando uma PPP, ou o que quer que seja, ao acesso pago à moradia, imediatamente se restringe os beneficiários a um público com solvência e capacidade de pagamento.
Não se trata, portanto, de uma política de HIS, trata-se de uma política de habitação para um perfil de média renda. É desejável que esse público de rendas média e média-baixa ocupe a área central de São Paulo – e considero importante que haja incentivo nesse sentido –, mas isso não deve ser feito no lugar da política de habitação social, e sim de forma complementar, e, preferencialmente, pelo mercado. Se o Estado entra, deveria concentrar-se em viabilizar habitação para os muito pobres.
No Brasil se faz muito uma manobra conceitual com a ideia de locação social. Aqui, a locação social aparece como o pagamento de um locatário para cobrir o custo da obra do empreendimento em que ele vive. Ao se fazer isso, eliminamos automaticamente a possibilidade de que essa locação social seja destinada para população de muito baixa renda. Não dá para vincularmos o pagamento dos custos de uma política habitacional com a mensalidade de um locatário. Aí está a manobra.
O que o governo do estado de São Paulo está chamando de HIS, na verdade são habitações que estão sendo destinadas para um público com renda familiar muitas vezes superior a R$10.000,00. O problema aí é que esses empreendimentos da PPP estão sendo erguidos em terrenos públicos e, assim sendo, deveriam ser destinados prioritariamente para população de muito baixa renda.
Reafirmo a importância de se fazer políticas de incentivo para ocupação de classe média e média-baixa nas áreas centrais de forma a promover diversidade social, mas diante do quadro social que temos de demanda e precariedade habitacionais nas faixas mais baixas, esse último deveria ser o público atendido.
Um dos poucos empreendimentos erguidos por essa PPP de Habitação está localizado num terreno doado pela Prefeitura e, por conta disso, nós fizemos uma exigência ao governo do estado para que os apartamentos erguidos nele fossem destinados para uma população de renda muito baixa.
Portanto, boa parte dessas unidades foi destinada aos moradores de uma ocupação chamada Estaiadinha.(4) Hoje em dia uma parte das pessoas contempladas com esses imóveis está com dificuldade de manter o pagamento do aluguel. Isso demonstra aquilo que eu havia falado anteriormente sobre a inadequação desse modelo de aluguel social para populações de baixa renda.
Eu acredito que o governo do estado não deveria destinar esses terrenos públicos, como aquele da antiga rodoviária,(5) para produção habitacional a uma população que não é só de baixa renda. Se houvesse, paralelamente a isso, uma forte política de produção habitacional para a faixa de zero a três salários mínimos, isso poderia ser justificado pela vontade de se chegar a um equilíbrio entre diferentes faixas de renda. Mas não é o que aconteceu.
No caso do nosso plano municipal de habitação e da nossa ação habitacional no centro da cidade, a intenção era incentivar a produção de unidades para a faixa de muito baixa renda, aproveitando os prédios ociosos da área central, criando um parque público de imóveis destinados a locação social.
Esse parque público iria atender, por exemplo, a moradores de rua, a mulheres vítimas de violência doméstica, a idosos em situação de vulnerabilidade ou a pessoas atendidas por programas de redução de danos – como as do programa “Braços Abertos”.(6)
• João Sette Whitaker Ferreira é professor livre-docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Doutor Honoris Causa, concedido pela Universidade de Lyon/Jean Monnet – St. Etienne, França (2017). Pesquisador sênior do Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos (LabHab) da FAUUSP. Foi secretário municipal de habitação de São Paulo entre 2015 e 2016.
• João Carlos Carvalhaes dos Santos Monteiro é doutorando em Geografia na Universidade Federal Fluminense e doutorando em Estudos Urbanos na Université du Québec à Montréal.
• Leda Velloso Buonfiglio é doutora em Geografia pela Universidade Estadual de Campinas, pesquisadora de pós-doutorado e professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande
Fonte: http://emetropolis.net/
Contatos:
Br Cidades
https://www.brcidades.org/
João Sette Whitaker Ferreira
https://cidadesparaquem.org/
whitaker@usp.br
João Carlos Carvalhaes dos Santos Monteiro
joaocarlosmonteiro@gmail.com
Leda Velloso Buonfiglio
ledabuonfiglio@gmail.com
Notas:
2 – Criado em 2004 pela então Secretaria Nacional da Habita-ção do Ministério das Cidades, por meio de recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) para ser acessado por cooperativas habitacionais, associações civis e movimentos so-ciais. Se destacou em relação aos demais programas pelo “juro zero”, pelo fomento ao associativismo e pela não obrigatorie-dade de participação de outros níveis de governo.
3 – O índice de Benefício e Despesas Indiretas é uma taxa que se adiciona ao custo de uma obra para cobrir as despesas indiretas que tem o construtor mais o risco do empreendimento, as despesas financeiras incorridas, os tributos incidentes na operação, eventuais despesas de comercialização e o lucro do empreendedor. O seu resultado é fruto de uma operação matemática baseada em dados objetivos envolvidos em cada obra.
4 – Comunidade localizada debaixo da ponte que leva o mesmo nome, removida em 2013 mediante ação de reintegração de posse acionada pela Prefeitura de São Paulo.
5 – Terminal Rodoviário da Luz, no centro de São Paulo, demolido em 2010 para dar lugar a um equipamento cultural no âmbito de iniciativas de revitalização da região.
6 – Programa municipal criado na gestão Haddad em 2014 com o objetivo de promover a reabilitação psicossocial de usuários de drogas em situação de vulnerabilidade social, atuando principalmente na região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo.