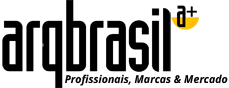É a política urbana brasileira que demarca os territórios no qual vivem as pessoas “matáveis”. A polícia que assassina é irmã do urbanismo que inventou uma não-cidade / Por Raquel Rolnik

Professora Raquel Rolnik
A morte da menina Agatha Félix, de 8 anos, baleada nas costas pela polícia quando voltava da escola dentro de uma Kombi que circulava pelo Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, nos alertou mais uma vez sobre o absurdo de uma política de segurança que tem provocado um verdadeiro genocídio, inclusive de jovens e crianças.
Faço coro aqui com os que denunciam o racismo, a licença para matar, as injustiças presentes nas estratégias de segurança empregadas sobretudo pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas não somente por ela. Quero aqui levantar uma outra dimensão deste assassinato, mais um entre tantos, que vitimiza justamente aqueles que a política declara querer proteger com sua guerra às drogas. Trata-se da dimensão urbana desta tragédia.
Se a Kombi na qual Agatha voltava da escola com sua mãe estivesse circulando em Ipanema, ou qualquer outro bairro “formal” da zona sul, oeste ou norte do Rio de Janeiro, muito provavelmente os policiais, mesmo que eventualmente perseguindo traficantes, não teriam entrado na rua atirando, espalhando balas pela ruas, como estavam fazendo no Complexo do Alemão naquele e em centenas de outros dias. Não se vê tampouco helicópteros atirando com metralhadoras pelas ruas do Botafogo, como em tantas cenas que foram registradas recentemente na Maré.
Na verdade, a política urbana brasileira demarcou um território como “informal”. Trata-se da maior parte da área urbana, construída por seus próprios moradores, com poucos recursos e algumas migalhas do Estado. Portanto as favelas e periferias são uma espécie de zona de exceção para a política urbana brasileira. É zona de exceção porque vive essa ambiguidade, uma espécie de suspensão, onde ninguém pode afirmar com certeza se aquele é um lugar permanente ou provisório, se pode ou não pode crescer e se desenvolver.
Assim, de um lado esta foi e continua sendo a maneira da política urbana não compartilhar os bens, as qualidades, os recursos e serviços da cidade com todos. E ao mesmo tempo viabilizar a disponibilidade de um enorme exército de trabalhadores que prestam serviços a baixo custo.
A equação é ainda mais perversa, porque a forma como se constituíram estes bairros é permanentemente estigmatizada como “ilegal” – e portanto seus moradores são identificados como infratores. Por outro lado, é exatamente a ambiguidade, porque sabemos que estes espaços continuarão existindo e prosperando, que transformou também este modelo em central para as disputas partidárias e de mandatos políticos. Receber migalhas de investimentos públicos ou ser removidos sem compensação é então uma espécie de loteria, para a qual valem, entre outras, as apostas nos jogos eleitorais.
Para além das consequências urbanísticas e políticas para os próprios moradores, a face tenebrosa deste modelo é justamente definir um lugar no qual o Estado pode agir de forma diferente, e portanto entrar atirando, invadindo casas sem ordem judicial, matando antes de perguntar.
Somo-me aqui no luto por Agatha, na luta por uma outra política de segurança. Não é mais possível admitir que continuemos perpetuando uma política urbana racista e colonialista, que constrói as fronteiras do Estado de exceção impedindo que a cidade possa ser apropriada por todos.
Raquel Rolnik é professora da FAU-USP e coordenadora do LabCidade.
Fonte: http://www.labcidade.fau.usp.br/
Contatos:
LabCidade Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade
(11) 3091-1979
http://www.labcidade.fau.usp.br/
Raquel Rolnik
https://raquelrolnik.wordpress.com/